Mas, havendo desejo urgente de reescrever, para efeitos políticos domésticos, a estafada história da glória da nação, então façamo-lo com maior desassombro e ensinemos logo nos bancos da escola primária que, identidade nacional à parte, a razão da continuada existência do estranho parcelamento territorial que delimita o rectângulo português no conjunto geográfico da Península Ibérica se deve, em grande medida, à perenidade da interferência geopolítica das elites anglo-britânicas nos assuntos da Hispânia. Perguntemo-nos se Portugal não será porventura o mais antigo domínio colonial britânico, e se não terá sido aqui que a técnica administrativa da indirect rule foi inicialmente afinada. Os cruzados ingleses saquearam Lisboa antes que Afonso Henriques pusesse um pé no castelo de São Jorge; o fundador dos “Descobrimentos” era mais Henry que Henrique; e, de todos os Braganças, só D. Maria I fez realmente frente aos interesses britânicos, ao acordar com a Czarina Catarina da Rússia a nossa entrada na Liga dos Neutros; não há como explicar as misérias do séc. XX português sem contabilizar a dívida catastrófica do período da Regeneração à banca britânica – dívida que só foi liquidada, diz-se, em 2015. Matéria, diria, para reclamar reparações históricas a Downing Street e a Westminster.
Se nos vamos dispôr a rever colectivamente o passado nacional, e não há mal nenhum nisso, devemos então, para manter um módico de coerência e sanidade, aceitar repensar o presente e reimaginar o futuro. Que eu saiba, o “povo” de cá, de Cevide à Culatra e do Corvo à Paradela, não foi nem tido nem achado no processo de adesão à CEE, nem indagado à boca do Tratado de Lisboa. No discurso oficial de glorificação da União Europeia não consta uma palavra sobre as evidências da dominação política, financeira e económica do sul da Europa pelo Norte protestante, e muito menos um reconhecimento de que a Península Ibérica é tanto o extremo sul do Atlântico Norte como o extremo ocidental do milenar mundo mediterrânico. O projecto “europeu” é, desde a nascença, uma lobotomização ideológica de continuidades históricas e geográficas, seja para sul, seja para leste. A bem dizer, a “Europa” não é um continente, é até menos subcontinente que a Índia: é um anexo estridente e ególatra da grande massa asiática.
Actualmente, perante a transformação evidente da União Europeia em organização vassala dos interesses geoestratégicos da NATO, e da perda da sua função original de instrumento de resolução de conflitos, é legítimo perguntarmo-nos se vale mesmo a pena continuarmos a vender tão barato a nossa soberania aos interesses do atlantismo anglo-saxónico.
Não há um economista honesto que, sem se rir, possa dizer que Portugal é um “país desenvolvido”. Numa curiosa inversão da mensagem de Thomas Moore, que imaginou os habitantes da ilha da Utopia a transitar do estado de barbárie ao estado de perfeição social sem ter de sofrer as dores das desigualdades civilizacionais, os portugueses transmutaram-se de pobres subdesenvolvidos a pós-industrializados, sem terem verdadeiramente experimentado um momento de contrato social rousseauniano. Com um passe de mágica, Bruxelas convenceu-nos que, se e enquanto formos “bons alunos da Europa”, aclaramos a pele, azulamos os olhos e alouramos o cabelo. E, com complacente paternalismo, os “verdadeiros europeus” aceitam-nos no clube e até acedem a vir cá comprar o melhor que temos para oferecer: sol, mansões e pastéis de nata.
Seria engraçado acordarmos uma manhã e reconhecermos que, náufragos de uma jangada feita de pedra-pomes, nos agarramos irreflectidamente à boia da União Europeia sem repararmos que os seus furos aumentam de tamanho a cada dia que passa. Talvez então nos olhássemos ao espelho e nos perguntássemos por que razão é tabu nacional discutir uma possível adesão à parceria dos BRICS+ como parceiro júnior do “país irmão” e abraçar assim, de forma positiva, a história imbricada das nossas ligações a África, à Ásia e à América Latina. Seria uma maneira mais razoável de proceder a uma reparação histórica que andarmos a gastar hóstias em murmúrios de auto-expiação.
Diário de Notícias, 5 Maio 2024
O Público, 7 Maio 2024






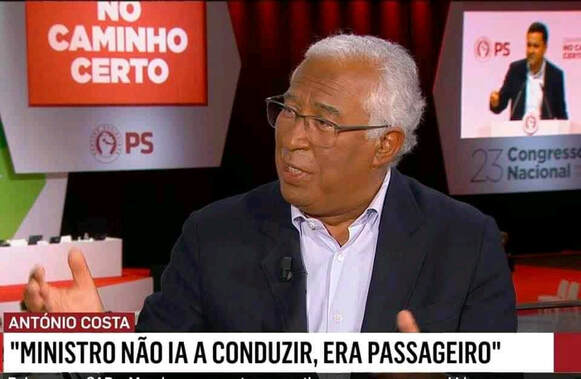



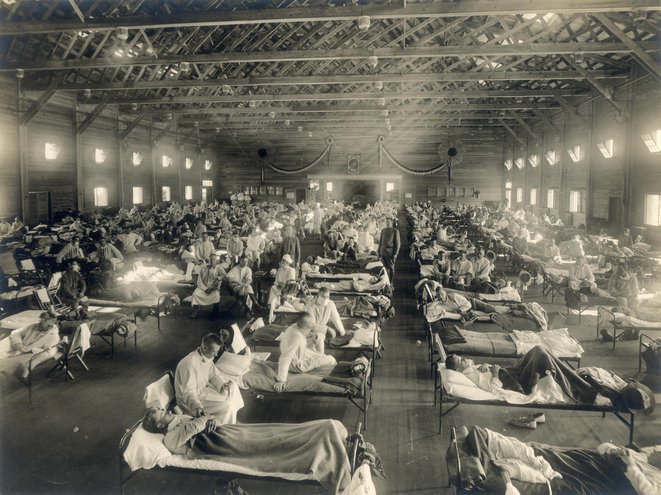
 RSS Feed
RSS Feed
