O mundo lá fora oferece-nos tantos espectáculos contrastantes que temos por vezes dificuldade em perceber as linhas que os ligam. Para lá do Canal da Mancha, um primeiro ministro justifica post est facto a decisão britânica de “libertar” o país da União Europeia com o “inequívoco sucesso” do processo de vacinação nacional contra a Covid19. Mais longe, nas margens orientais do Mediterrâneo, outro primeiro ministro vangloria a “esperteza” do Estado israelita, que garantiu, oferecendo a sua população como cobaia de testagem em larga escala da eficácia das vacinas anti-Covid19, um programa de vacinação rápida e quase universal dos seus cidadãos. Ainda mais longe, no subcontinente banhado pelas águas do Índico, o país que se posicionou como o principal produtor mundial dos componentes primários da polémica vacina da AstraZeneca afunda-se numa tragédia colectiva nutrida pela propagação fulgurante de variantes ultra-contagiosas do Coronavírus, pela imensa fragilidade do seu sistema hospitalar e por uma baixíssima taxa de vacinação da segunda maior população do mundo.
É fascinante verificar o actual grau de imbricamento profundo das cadeias globais de produção de vacinas, a interrelação dos fluxos de circulação internacional de humanos e de vírus, e a sucessão de políticas-barreira tendencialmente isolacionistas adoptadas por uma multitude de estados nacionais para prevenir a expansão da doença e o colapso dos sistemas de saúde. Mas é igualmente fascinante – e deprimente - observar as assimetrias profundas entre países ricos e países pobres, e a concorrente normalização de posturas de egoísmo nacionalista. Israel, o Reino Unido e os Estados Unidos contam-se entre os países onde a vacinação de prevenção da Covid19 se encontra mais avançada. Isto quer dizer, no fundo, que cada vida salva nesses países se faz à custa de vidas perdidas noutros países, devido às desigualdades profundas no sistema de distribuição mundial de vacinas. Suprema ironia deste estado de coisas é que o país que garante o sucesso da vacinação dos países ricos (e também pobres – porque o programa Covax dele depende igualmente) o faz à custa da sua própria população. Histórias tristes que os laços coloniais teceram...
É de egoísmo e ironia que quero falar. Como é sabido, o Estado Israelita nasceu e consolidou-se graças à expulsão de centenas de milhar de palestinianos para os países árabes vizinhos (conhecida como a Naqba) e à concentração em duas faixas territoriais estreitas (Gaza e Cisjordânia) da restante população palestiniana. Actualmente, a população que de acordo com a nova lei da nacionalidade israelita não tem direito de cidadania por não ser “judia” – os palestinianos e os árabes – não beneficiam senão marginalmente, por esmola, do programa de vacinação “universal” israelita.
Este egoísmo nacionalista, na medida que é uma resposta política imediatista e oportunista, contém riscos graves a longo termo porque sedimentam percepções externas que se tornam indeléveis.
Passemos agora do macro para o micro: o desassoreamento da praia do Portinho da Arrábida que levou ao desaparecimento da areia e à dissolução da duna elevada do Creiro. O Portinho ganhou fama de lugar paradisíaco quando alguma burguesia lisboeta o começou a tomar de assalto nos anos 50-60 do século passado. Sucedeu-se a construção de discretas moradias “de arquitecto”, de legalidade mais que duvidosa. É verdade que não havia ali, como na Palestina, uma população autóctone a ser expulsa. Mas o ambiente de ghetto privilegiado era manifesto. Os “palestinianos” vieram depois, nos anos posteriores ao 25 de Abril de 1974. “Palestinianos” era o termo pejorativo que os “asquenazes” lisboetas usavam para se referir à população de veraneantes que construíram as muitas dezenas de casebres clandestinos sobre a praia e no interior da mata do Creiro, e que assim destruíram o ambiente exclusivista do local. A sua reacção enojada perante o cheiro da sardinha assada nos grelhadores e a insalubridade que advinha da ausência de saneamento do casario clandestino, aliada à sua capacidade de influenciar os corredores do poder legislativo e executivo, foi premiada pelo famoso “Engenheiro Pimenta” com a erradicação de todo o casario ilegal na orla da praia. As casas “de arquitecto”, bem disfarçadas no matagal da arriba sobre a (desaparecida) Praia dos Pilotos, ficaram convenientemente excluídas do programa de limpeza das construções ilegais da Praia do Portinho.
Mas a construção da barra da Figueirinha e do molhe do Outão, no início dos anos 70, assim como a multiplicação de barcos de recreio no Portinho (era tão chique, nessa altura, mostrar aos vizinhos o último modelo de fora-de-borda...) que com as suas âncoras destruíram o manto vegetal submerso que retinha as areias, muito contribuíram para o progressivo desassoreamento da praia. É verdade que a subida do nível médio das águas do mar, a redução dos depósitos sedimentares do estuário do Sado e as dragagens constantes para manter aberto o canal para navios de grande porte, tiveram também a sua quota-parte de responsabilidade. Mas tenho para mim que o egoísmo imediatista dos burgueses privilegiados de Lisboa, que os levou a imaginar uma barreira de classe para se distinguir dos “palestinianos” – os clandestinos que reclamavam ineptamente o seu direito ao paraíso de veraneio –, foi compensação de curta duração. Os clandestinos foram-se, as autoridades do Parque continuam a proibir no Verão a circulação automóvel entre a Figueirinha e o Portinho, sempre com o pretexto de uma esperada calamidade de queda de rochas, mas o Portinho deixou de ter areia. Os “asquenazes” estiram agora as suas toalhas sobre calhaus lamacentos.
Jornal de Azeitão, Maio 2021




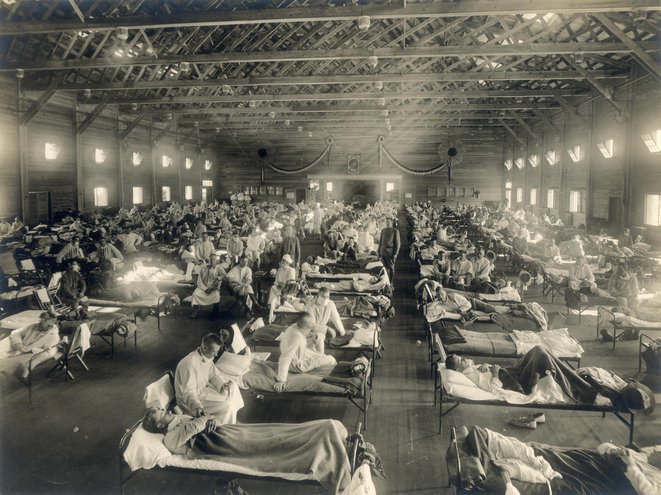

 RSS Feed
RSS Feed
