Também em Sesimbra as mulheres tendiam a manter-se apartadas das tarefas directamente ligadas à pesca, e eram elas a governar a casa. Mas, como no Algarve e em Setúbal, foram elas o principal recurso operário da florescente indústria conserveira que durante boa parte do século passado alimentava o mercado nacional e internacional. A elas cabia o amanhar, o limpar, o descabeçar, o cozer e o acamar das sardinhas nas latas; as tarefas masculinas nas fábricas eramç além do ofício de soldar as latas, o transporte e a arrumação do peixe que chegava das múltiplas armações que pontilhavam a costa arrabidina, e cujas estruturas arruinadas ainda se podem lobrigar nas várias covas e enseadas, da Azóia a Galapos. Mas, antes e depois da febre das fábricas de conserva que os industriais franceses introduziram em finais do séc. XIX – a Bela Vista, a Primorosa, a Pinto, a dos Gatos, do Chora, a Lusitana, a Francesa... -, era ponto de honra das mulheres dos pescadores não trabalharem, pelo menos fora de casa.
Nos anos setenta e oitenta do século passado, o aventureirismo dos pescadores garantia sem problemas este desafogo: quando começou a escassear o peixe na costa da península, aumentou-se o calado dos barcos e o que antes era impensável – a faina no alto mar – tornou-se rotina: dos mares de Sesimbra, Cascais e Peniche, a pesca alargou-se então para os bancos atlânticos do Gorrinche, das Canárias e da costa mauritana, atrás sobretudo do peixe-espada negro e do chicharro, porque agora o peixe apanhado podia vir refrigerado em gelo miúdo. A vida a bordo era inclemente: campanhas de quinze a vinte dias nos mares longínquos, trabalhando noite e dia em conveses descobertos, sem mais que breves descansos diários de duas horas em catres instalados paredes meias com as máquinas e os depósitos de fuel. Distrações eram uma miragem: o calor efémero das prostitutas de Safi ou Agadir, a sorrateira troca de garrafas de aguardente por barras de haxixe, o contrabando de óculos escuros e ténis canarinos, e sobretudo a esperança de regressar à vila para descansar alguns dias, antes da retoma da faina marítima. A parte – o soldo entregue após a venda na lota - era entregue à mulher e ala para o café e conviver com as outras companhas ao ritmo das imperiais esvaziadas. Comum era ver as mulheres irem reclamar os maridos à hora do jantar: no mar, mandava o arrais, em terra governava a mulher. Tanto mais que as saídas para o mar, que antes duravam um a três dias, passaram a ditar ausências muito mais prolongadas.
Nada desta vida passada indica, no entanto, que a condição das relações matrimoniais e laborais era fixada na pedra, ou que o trabalho na indústria conserveira tenha sido um momento sem par na história das mulheres de Sesimbra. A decadência da pesca e a expansão do turismo de veraneio na vila ditaram o regresso das mulheres da comunidade ao trabalho salariado. Mas já antes, no quarto final do séc. XVIII, por exemplo, quando a estamparia de tecidos de chita se lançou na região com a criação, pelo Marquês de Pombal, da Real Fábrica de Chitas de Azeitão, no edifício quinhentista que antes fora propriedade dos proscritos Duques de Aveiro, era encargo das mulheres de Sesimbra o fiar do algodão para alimentar os teares azeitonenses.
Jornal de Azeitão, Setembro 2020
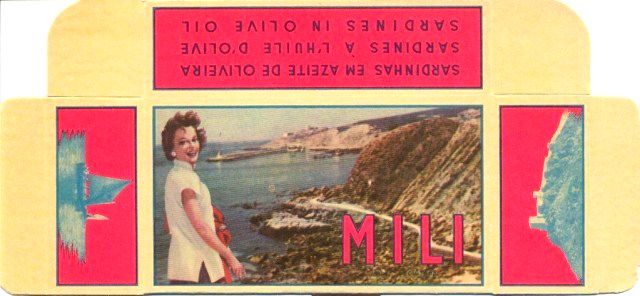

 RSS Feed
RSS Feed
