Hoje em dia, não há café, pastelaria ou supermercado da vila e arredores que não sirva tortas de Azeitão, e o passa-palavra diário vai alimentando o ranking informal do top ten das tortas “genuínas”. Os critérios degustativos mesclam preferência pessoal e estereótipo social: há as desclassificadas por serem “industriais”, e as preferidas por parecerem “caseiras”. Como quem as fabrica não explicita que ovos usa, e se são ou não em pó, qual a qualidade da farinha e do açúcar, ou qual o método de cozedura ou o nível de higiene da produção, fica à responsabilidade do cliente testar, apreciar, e compartilhar o seu juízo sobre a qualidade da torta. É um processo difuso e em permanente mutação. Pessoalmente, não desdigo da “verdadeira” torta, a do “Cego”, mas na verdade prefiro uma outra, que me é vendida como não contendo glúten e mais baixo teor de açúcar.
Quando falamos de tradições, gostamos de as imaginar como provindo da noite dos tempos, de hábitos e saberes cuja origem se perde em brumas de ancestrais memórias. No caso da torta de Azeitão, pelo contrário, temos uma origem relativamente bem estabelecida e moderadamente recente. Se pensarmos mais genericamente na doçaria portuguesa, parece óbvio que resulta da congregação de técnicas culinárias de origem múltipla e incerta com matérias-primas historicamente disponíveis no território (a farinha, a amêndoa, o ovo, o azeite, manteiga ou sebo) ou buscadas em lugares longínquos (a canela, o açúcar). Que a doçaria portuguesa é muito distinta da vizinhança espanhola, marroquina, ou francesa, é mais que certo, como certo é que o gosto se aprende, consolida e perdura ao longo de décadas e séculos. A torta de Azeitão é uma variante particular de um tipo de doçaria que reconhecemos facilmente como “tipicamente” portuguesa. A sua aceitabilidade, o seu sucesso, advém da consistência química que resulta da mescla da farinha com o açúcar, a canela, e o ovo (e também da ausência da amêndoa na sua composição).
Vale a pena notar que a torta de Azeitão (ou de Fronteira) se encontra no polo oposto ao pastel de nata. A torta é um doce regional que facilmente se acomoda a um gosto nacional. Já o pastel de nata tem uma tipologia e evolução muito distintas. Não se sabe ele se está na origem do custard pie ou se é uma adaptação nacional desse pastel inglês. Mas o seu sucesso internacional está, definitivamente, ligado às heranças do império britânico na Ásia: o interesse do mundo pelo pastel de nata vem do facto de se ter espalhado – como pastel ocidental – no sudeste asiático (Hong Kong, Bangkok, Singapura). A sua origem mítica numa pastelaria de Belém não contradiz a sua natureza de ícone da expansão ocidental no mundo.
E vale a pena notar também que, falando em termos ainda mais gerais, o açúcar, ingrediente indispensável na doçaria nacional – e mundial – é porventura, para o melhor e para o pior, o mais importante contributo histórico de Portugal para a humanidade. O método de produção do açúcar terá sido inventado na Índia e era já conhecido na Europa medieval (sobretudo com usos medicinais), mas a sua produção em larga escala iniciou-se nas Canárias e na Madeira, em finais do séc. XV. A paixão que causou nos europeus levou a que o modelo dos engenhos madeirenses fosse transportado, primeiro para São Tomé, e depois para o Brasil.
Quando como uma torta de Azeitão, mesmo com baixo teor de açúcar, não me consigo abstrair do facto de, como português, ter uma cota, ainda que mínima, de responsabilidade histórica, ancestral, na tragédia secular do comércio de escravos africanos para o “novo mundo”, e na terrível pandemia de diabetes e obesidade que afecta grande parte da população mundial.
Jornal de Azeitão, Maio 2024


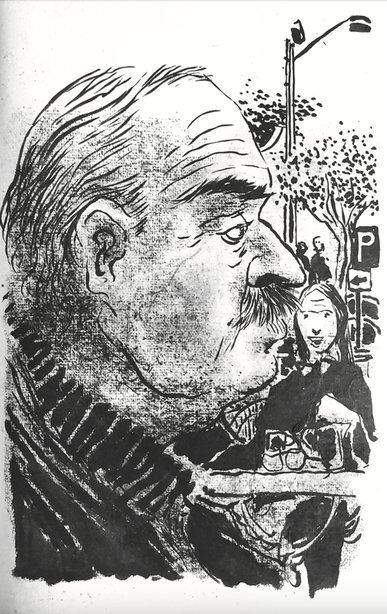



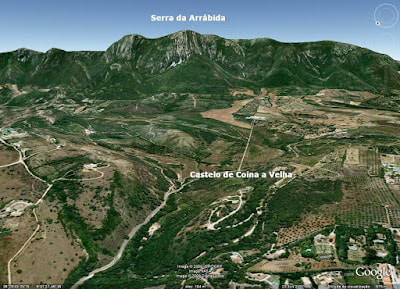

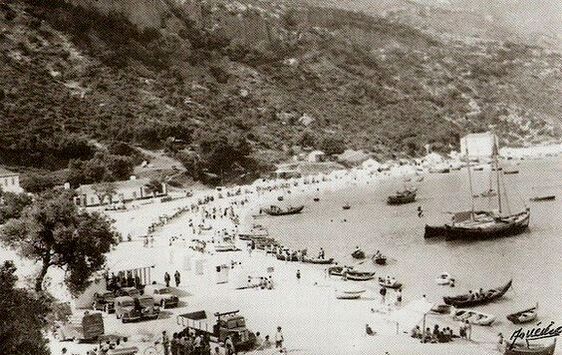
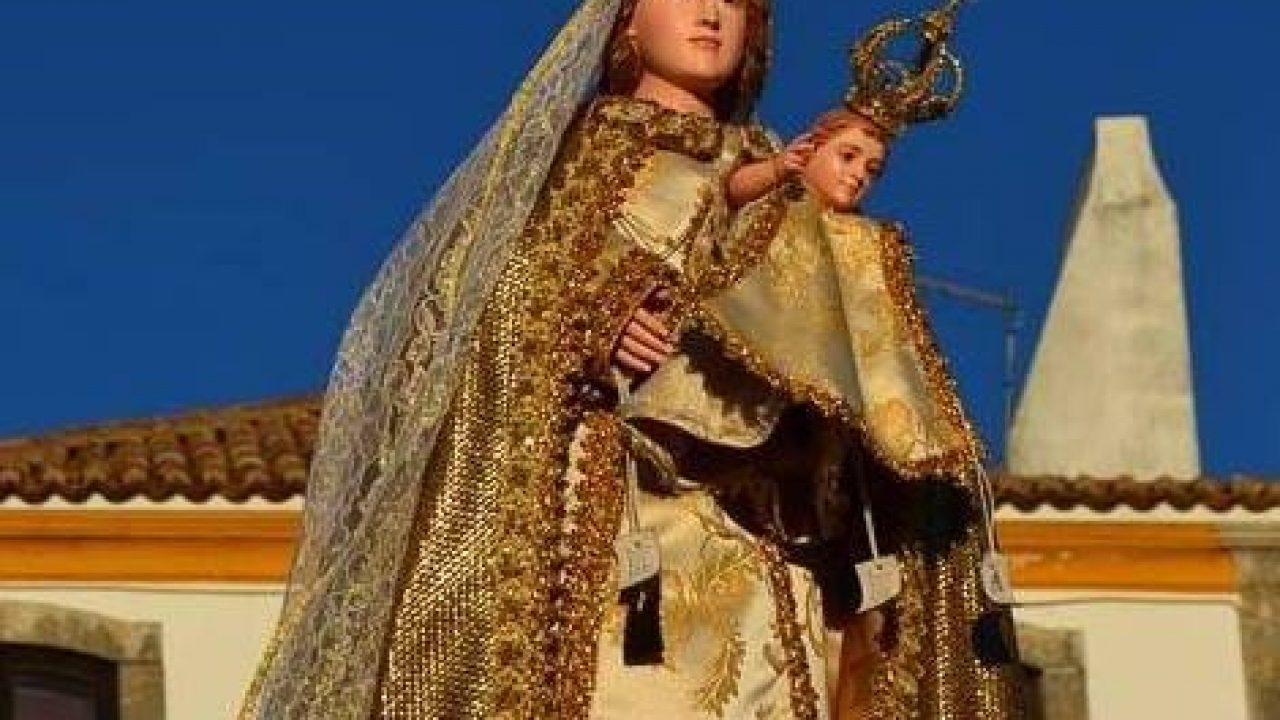

 RSS Feed
RSS Feed
