Famosa ficou também a sua proposta de equiparar história e mitologia, nomeadamente no que respeita ao fascínio que os mistérios dos tempos idos têm em nós. Nessa medida, a emoção que o historiador sente perante o original do Tratado de Tordesilhas é equivalente à que um aborígene australiano sente ao tocar um churinga (um objecto oblongo representando antepassados divinizados). Ambos têm o condão de projectar o cérebro humano na voragem da imaginação do passado.
A topografia e a etimologia são também programas de viagens a passados que não podemos senão imaginar. Pouco ou nada na paisagem visível a partir da janela de um carro na N10 ou na N379 nos fala de outra coisa que não desordenamento urbanístico ou de ruralidade decadente. Ao fundo, o recorte suave dos picos da Arrábida lembra-nos a presença e a permanência de uma história que está para aquém e para além de nós – a história geológica. Quase tudo o resto é passageiro e, admitamos, desmemoriado. A patrimonialização superficial de certos edifícios e objectos pouco revela da profusão de transformações que a região e os seus humanos viveram. Mas, para quem quer estar atento, há, contudo, débeis sinais que, seja nos cartapácios que pouca gente lê ou nas placas toponímicas de beira-estrada, permitem que nos transportemos mentalmente para paisagens alternativas e possibilidades de vida distintas.
A placa que identifica a rua do Porto de Cambas, na Aldeia de Irmãos, tem esse estranho poder de nos deixar entrever, na densa névoa da ignorância em que vivemos submergidos, ténues luzes de um mundo desaparecido. A palavra “camba” tem uma etimologia difícil de decifrar. Há quem a dê como de origem céltica, e com o significado de “curva”. Há quem sugira, para certos usos (mais no Brasil que em Portugal), uma raíz do quimbundo angolano. “Cambar”, “cambalear”, “cambalhota” e talvez “cambalacho” estão associados ao sentido de “curvar”. Já “cambada” pode de facto provir de kambo, com o sentido de “fileira de animais ou pessoas”, e reportando-se à ideia de fila ou grupo de escravos.
Se cruzarmos toponímia e cartapácio (o Dicionário Geográfico do Padre Luís Cardoso, de 1747, por exemplo), o Porto de Cambas revela-nos um Rio de Coina navegável de Azeitão até ao Barreiro (um tardio subsidiário do Tejo, portanto), e um término onde talvez se desembarcassem escravos africanos para ir trabalhar nos arrozais do Sado (hipótese algo fantasiosa, mas que apela a tentar perceber a origem do toponímico de “Negreiros”), ou se cambassem as velas das barcas para mudar de bordo (hipótese não menos fantasiosa). Fosse como fosse, o desaparecido Porto de Cambas foi até ao século XIX um ponto comunicação vital entre Azeitão e Lisboa: por aí se escoariam o moscatel, o azeite e os produtos hortícolas. E, para que a ténue lamparina da história e da mitologia do concelho ganhe em poder luzente, seria talvez de investigar como, da fábrica real de estamparia de chitas de Vila Nogueira, se transportavam os produtos tecidos. Tendo em conta que era norma as manufaturas têxteis serem implantadas junto de vias fluviais, é bem possível que fosse através do Porto de Cambas, à Aldeia de Irmãos, que a economia proto-industrial azeitonenense respirava.
Cada vez que por lá passo pergunto-me: valerá a pena valorizar estas memórias? A ponte velha ainda por lá está, mas em fase terminal de ruína. Do que foi a fábrica (e anteriormente palácio dos duques de Aveiro) pouco sabe(re)mos, tanto mais que o edifício vai ser esventrado para dar lugar a um hotel, diz-se. O rio foi assoreado, talvez para sempre. E o olhar das entidades autárquicas tem-se revelado demasiado míope para ver mais longe que um cacho de uvas em fibra de vidro.
Jornal de Azeitão, Setembro 2021


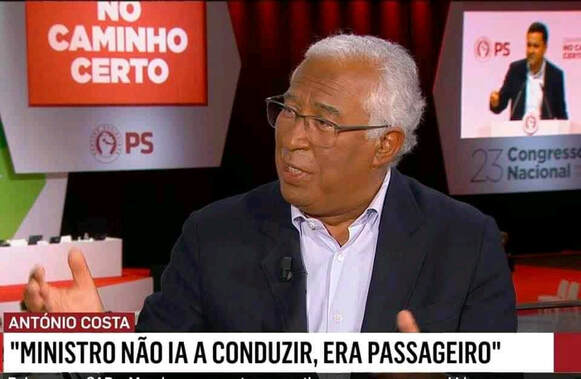

 RSS Feed
RSS Feed
